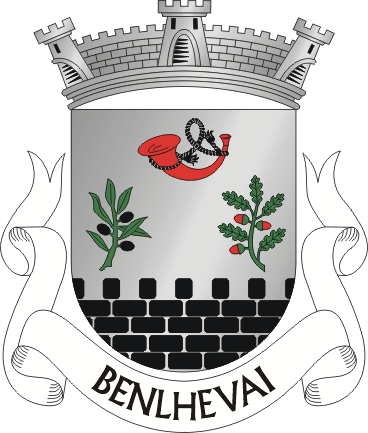Benlhevai
...
Capítulo XII
Um ano em Benlhevai – 1957 - janeiro e a azeitona
Vamos então deixar esse lado negro para quem quiser, e nós vamos voltar à nossa história. Que é que se fazia nesses anos? Como era Benlhevai nos meados do século XX?
Não há nada como cair num ano qualquer dessa época, e percorrê-lo do princípio ao fim. Vamos escolher então um, e como ano atrás ano à frente não muda grande coisa, e quem faz a escolha sou eu, o autor desta história, então escolho o ano em que nasci, 1957. Até calha bem, o que se passou a partir deste ano em Benlhevai já contou com a minha participação, e assim já posso falar na primeira pessoa:
1 de janeiro de 1957
“Morra o Velho! Viva o Novo!”
Era assim que se começava o ano. Ainda se apanhava a azeitona, enfrentando as manhãs geladas com a coragem de quem nada teme. Ainda estava tudo encrambelado, e já os homens estavam de vara na mão atacando as oliveiras com movimentos rápidos para aquecer, as mulheres com uma missão ainda mais difícil, apanhando a azeitona por entre a erva que de tão fria até doía. Não era raro entre a azeitona virem pedaços de gelo meio em pó, era a geada que ainda persistia, que deixava as mão sem qualquer sensibilidade. Tinha que se ir à fogueira, pôr as mãos mesmo em cima do lume, ainda insensíveis, e só passado alguns instantes começava a vir aquela dor intensa, que se ia transformando aos poucos em prazer, com o calor finalmente a tocar na pele. Também não era melhor a água gelada que vinha pela vara abaixo e se metia nos braços, se caía aquela morrinha que se metia pelos ossos adentro e molhava as oliveiras. Era a água molha-tolos, porque não chovia o suficiente para ir para casa, e a água era suficiente para nos molhar todinhos, parecíamos uns pitos engrougidos.
Era um alívio quando finalmente chegava o meio dia, e não era preciso perguntar as horas, era só estar com o ouvido alerta. Quando o primeiro burro começasse a zornar, o meio dia já não estava longe. Logo a seguir era uma orquestra, zornava um dum lado, logo outro do outro, mais outro e outro, era só acabar aquela oliveira e ir para a fogueira comer e descansar. Os burros de burro não têm nada, nem sei como é que lhe puseram este nome. Talvez por serem algo agressivos, um gesto mais desajeitado dum homem é logo comparado a um beijo de burro, ou por serem useiros e vezeiros em cheirar os cagalhões dos outros burros, que eu acho que é assim que eles sabem da vida uns dos outros, ou então de serem difíceis de segurar se lhes dá a mosca ou se lhes arreguicham as orelhas ao cheiro duma burra que ande à cria.
Vamos mas é à merenda. Que bem sabiam aqueles figos secos, uma azeitona quartilhada e bem salgadinha, apetecia logo um copo. Depois um cibo de chicha gorda do reco que se tinha matado nos princípios de dezembro, um bocado de cebola, outro copo, uma alheira quentinha, uma linguiça, mais um copo, só era pena aquela hora ser tão pequena. Ainda se estavam a esgrabilhar os dentes com a ponta da navalha, já estava o dono das oliveiras:
“Bá, rapazes, vamos embora que daqui a nada é noite!”
Tomáramos cá nós a noite! Mas lá vamos. À medida que o dia ia avançando, o gelo derretia, o vinho corria, homens e mulheres cantavam. No fim do dia limpava-se a azeitona, era o esforço derradeiro do dia. Fazia-se a cama, lonas estendidas, e atirava-se a azeitona à mão para um montão o mais longe possível, de maneira que os ramos e folhas ficassem a meio caminho. A azeitona ficava assim limpinha, pronta para ensacar. Daqui ia para casa, de casa para o lagar, aí havia de ser esmagada, a baga ia para um lado, o azeite para outro, este havia de ser separado do alpiche e ficar por cima da água, previamente aquecida, e ir para a talha, puro, cristalino, da cor do ouro. Regressava-se então finalmente a casa. O lombo estava moído, mas ainda se arranjavam forças para cantar. Cantávamos todos, novos e velhos, rapazes e raparigas:
“O nosso rancho é o da bandeira,
É o da bandeira, é o campeão.
Oh i oh ai toca a cantar, toca a rir,
Venha cá pr’ó pé de nós
Quem se queira divertir.”
Os homens de vara ao ombro, a saquita da merenda lá pendurada, as mulheres de cesta no braço, entrava-se no povo a cantar ainda com mais vigor, armava-se ali um jogo de roda, se fosse preciso. Até ajudava a aquecer, que a noite já tinha caído, e já geava, via-se pelo ar, que até cortava.
-------------------------------------------- CONTINUA ---------------------------------------------