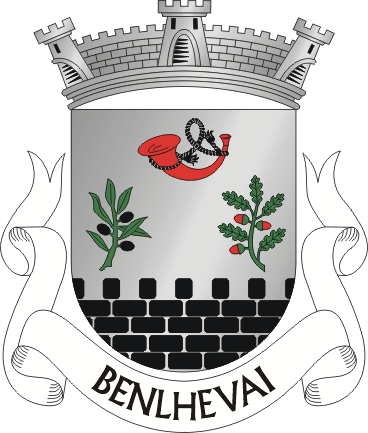Benlhevai
...
Terminámos os dois primeiros capítulos referindo que Benlhevai é uma terra farta, com bons terrenos, água com alguma fartura, onde tudo se dá bem, e que a agricultura sempre foi de subsistência, era praticada para ter a casa cheia, vendendo-se apenas o que sobrasse. Continuemos então com o terceiro capítulo:
3 – A cultura do cereal, os farelos e as biendas
Esta situação viria a alterar-se na década de 30 do século vinte, com Salazar. Incrementou fortemente o cultivo intensivo do cereal, pôs toda a gente a tratar desta cultura, e passado pouco tempo estava Portugal inteiro, o Portugal rural entenda-se, a ocupar todo o seu tempo e todas as suas energias com esta cultura. Os donos da terra ganhavam com este negócio. Salazar pôs à sua disposição uma rede de recolha de trigo e centeio, silos por todo o lado, uma organização corporativa forte, grémios, uma federação apadrinhada pelo regime. Era um bom negócio para eles.
Foi assim que Salazar endireitou as finanças em Portugal. Com o golpe de estado de 1928 vai para o ministério das Finanças, e como estas estavam um autêntico caos, ele fez o que ainda agora se faz. Cortes na despesa, aumentos na receita, isto é, o estado deixa de gastar dinheiro com obras, com ajudas aos cidadãos, diminui os ordenados dos trabalhadores, e portanto chega ao fim do ano com mais dinheiro nos cofres. Aumentos na receita, isto é, aumenta os impostos para os cidadãos pagarem. É remédio santo, passado pouco tempo deixa de haver défice. O estado começa a ficar bem de finanças, os cidadãos, isto é, o povo, começam a ver as suas finanças a piorar e cortam na ração. Foi esta política que foi seguida por Salazar, e que pelos vistos ainda hoje está na moda, e não é só em Portugal. Para que não houvesse qualquer dúvida que esta era a melhor política, reforçou as medidas de segurança, não fosse alguém protestar.
As rendas das terras eram caríssimas, e assim começou a haver duas classes completamente distintas, os donos das terras, que viviam à lauta com as rendas, e a outra classe, os que não tinham terras, a passar fome porque ganhavam pouco, e a ver o fruto do seu trabalho ir todo ou quase todo para as rendas. Entre estas duas classes havia uma outra, os remediados, que tinham algumas terras e necessitavam ainda de mais algumas para governar a vida. Não era em todas as terras que existia esta classe. Na maior parte dos casos só havia os ricos e os pobres, mas felizmente em Benlhevai havia cá bastantes famílias que podiam ser consideradas remediadas.
Arrancavam-se castanheiros porque estavam a ensombrar a terra, as árvores de fruto eram postas apenas nas bordas dos terrenos ou junto a algum poço, onde não ocupassem terra que era necessária para o cereal. Todos os terrenos, todos os cantos, um bocadinho de terra entre as fragas, todos os espaços eram aproveitados para semear trigo ou centeio. Gastava-se todo o ano com esta cultura e com o trato da cria. Era à pressa que se tratava da horta, dos castanheiros, das oliveiras. Mesmo a plantação de macieiras ou outras árvores de fruto era feita mais a pensar no sustento dos animais do que na própria alimentação da casa.
Tudo era feito em função do cereal. Entre a decrua, que é a primeira lavoura da terra, passando pela entravessa, que é a segunda lavoura, continuando com as sementeiras, mondas, segadas, acarreja e malhada, mais o trabalho de plantar a ferrã e o painço, de recolher o feno, e tudo o mais que era necessário para alimentar os bois, os machos ou os burros, pôr a palha na loje e tirá-la quando já estava bem curtida, transformada em estrume, lá se ia o ano todo, e sempre a trabalhar de sol a sol.
No fim do ano agrícola, isto é, depois da malhada feita, toca a fazer contas, e depressa que já estão todos os credores à espera. Às vezes disfarçadamente, mas quando desconfiavam que a colheita era fraca, até apareciam logo na malhada. Faltar por faltar, que faltasse para os outros.
Tantos rasões pela terra da Enxemeia, tantos pela Vinha d’Antão, tantos pelo Concelhum, rais parta, lá se ia a colheita. Mas ainda tinha que se pagar a maquia da malhadeira, levar mais dois rasões de pão para o barbeiro, um para o alfaiate, estes eram bem empregues porque era para pagar todo um ano de trabalho, era o que agora se chama uma avença, mas paga com géneros, que o dinheiro era escasso. A paga nem era grande coisa, coitados. Ainda ia mais um ou dois para o padre, era a côngrua, mais os que tinham que se guardar para a sementeira do próximo ano, e pouco sobrava para cozer o pão durante o longo ano que estava pela frente.
Comia-se primeiro o trigo, aquele pão branquinho que sabia tão bem mas que era tão pouco. Pouco tempo depois da malhada passava-se logo para o centeio. De vez em quando, para render mais, cozia-se o charrão que se fazia com uma farinha menos peneirada, a que ficava retirando apenas os farelos mais grossos. Agora chama-se pão integral, e até é chique comê-lo, descobriram que é melhor para a saúde.
Os farelos iam para as biendas do reco. Misturadas com folha de olmo, quentinhas no lato ao lume, o dito reco chamava-lhe um figo. Os latos eram de lata, claro, faziam-nos os caldeireiros ou compravam-se na feira dos quinze ou dos vinte e oito em Vila Flor. Quando se estragavam, o aro do fundo servia para os garotos fazerem torrincas. Com um ferrinho a servir de guia, faziam-se grandes correrias. Era nesta brincadeira que mais topadas se davam. De vez em quando, o dedo grande do pé, pumba, batia numa pedra, inchava, doía, lá ia uma choradela, e ala que logo passava.
Agora é tudo de plástico, e na transição do lato para o plástico passaram-se das boas!... Uma vez o Porfírio Sousa pôs um desses latos de plástico com a bienda ao lume. Nem se lembrou que não era de lata, fazia aquele serviço poucas vezes, era a patroa, a Amélia, que tratava sempre disso. Mas naquele dia calhou ao Porfírio tratar da bienda porque a Amélia tinha ficado em baixo, no sóto, a dar mais um ou dois copos ao Gama, ao Porfírio da Burga, ao Magana e a mais alguns, e eles precisavam bem, a esta hora já estavam todos borrachos. Pendurou o lato nas cadeias, aquele cadeado de ferro que vem de dentro da chaminé, e que serve para aí pendurar o que quisermos aquecer, seja o lato, o assador das castanhas ou outro utensílio qualquer, ficando mesmo por cima do lume. Agarrou no fole, soprou para o lume ficar mais forte, e lá foi comer um cibo de pão e queijo para fazer boca para um copo, e quando se foi a percatar, o lato estava a derreter e a bienda espalhou-se pelo lar fora.
“Rais venha que te partira”, iria dizer a Amélia, “não te posso mandar fazer nada em casa…” O Porfírio ia-se rir, a Amélia ia dizer que não lhe achava graça nenhuma, mas na verdade até achava, e acabava por se rir também. Era assim que acabavam os desentendimentos entre os dois. Na frente fosse de quem fosse, o Porfírio não se cansava de dizer “Eu quero muito à minha Amélia!...”, e a Amélia não o dizia porque as mulheres não dizem essas coisas. Dizia apenas “Oh maluco…”, que era como quem diz, “Eu também te quero muito!”. À distância que vai da sua morte, mais de 15 anos, ainda penso que a Amélia, agora posso dizer Tia Amélia porque falo na primeira pessoa, morreu porque não podia estar longe do seu Porfírio. Ele morreu em Agosto, doente, ela morreu menos de dois meses depois, sem que houvesse qualquer doença que fizesse prever a sua morte. O amor tranquilo que viveram em vida, até na morte os aproximou.
Bem, voltemos à análise financeira da sociedade civil de Benlhevai, como agora diriam os entendidos nessa matéria. O que se pagava de rendas e avenças era em géneros, mas havia despesas que tinham que se pagar a dinheiro. O adubo, os bicos, as relhas, os rastos e as abiecas da charrua, ou outra peça do carro (carro de bois, entenda-se), ou da charrua que se partisse, as ferraduras para os bois e o trabalho do ferrador, um copo que se bebia no sóto. Para haver dinheiro era preciso haver que vender, e às vezes sabe Deus o que tinha que se vender! Uma oliveira a um rico, uma remeia de azeite que bem falta ia fazer para temperar as batatas.
Diziam que pior que ser pobre era ser pobre e comer muito. Mingava o centeio na tulha, o montão das batatas, o azeite na talha e o dinheiro na carteira. Só aumentava a pobreza, e que triste era a vida dum pobre, ter que dizer à patroa que pusesse mais um remendo nas calças, que já não sobrava nada para comprar a fazenda para umas novas. O Mestre Alfaiate que tivesse paciência, agora não tínhamos trabalho para lhe dar. Poupava-se na fazenda e não tínhamos que lhe dar o rasão de pão no fim do ano. À patroa não era preciso mandá-la poupar. Era o que sempre fazia e vá-se lá saber como é que às vezes conseguia pôr um almoço decente na mesa e trazer os filhos bem vestidos. Tirava-o da boca para os trazer a eles bem tratados, não podia ser de outra maneira. Um pobre não tem vergonha de passar fome e andar mal vestido, vergonha é roubar. Bem era que andassem todos bem vestidos e que houvesse sempre pão à farta na gaveta, mas quê…
Quem estiver a ler esta história deve estar a pensar, “Que história tão triste, é só misérias…” Não seria assim nem se falava destas coisas se esta fosse a história da gente fina, dos que mandam, dos presidentes, do clero e da nobreza. A professora ensina-nos a história de Portugal, lemos o livro de ponta a ponta e ficamos a saber que o rei D. João I fez o mosteiro da Batalha, o rei D. Manuel I fez o mosteiro dos Jerónimos, o Américo Tomás e o Salazar fizeram a ponte sobre o Tejo. Bem trabalhadores eram esses reis e presidentes, só que não mexeram uma palha para fazer tais obras. Foram os arquitectos, os engenheiros, os trabalhadores, que fizeram essas maravilhas, foram sobretudo estes últimos que morreram a trabalhar, e então antigamente, ao fazer aqueles monumentos, aquelas enormes catedrais que hoje nos deixam de boca aberta, morriam como chedes, rapavam fome de cão. Ao olhar para essas maravilhas da arquitectura não vemos o sangue que está nos seus alicerces, o cheiro a morte que está no meio daquelas paredes. Olhamos para elas, tiramos fotografias, dizemos “Olha que lindo!”, vemos uma placa a dizer que a obra foi feita pelo rei fulano tal, pelo presidente beltrano qualquer coisa ou pelo bispo não sei quantos, sabendo nós que não puseram lá os pés, e se os puseram foi no dia da cerimónia, com uma almoçarada à espera enquanto descerravam a placa alusiva à solene ocasião com os seus nomes gravados a letras de ouro. Hoje em dia felizmente já não é bem assim, tirando a parte da almoçarada e da cerimónia, em que se mantém igualzinho ao que era antigamente.
Ora, não contando a história de presidentes, clero e nobreza, somos obrigados a falar das farturas e misérias, das tristezas e alegrias, das festas e das desgraças da gente que anda cá por baixo a fazer pela vida. É assim a sina de quem não nasce em berço de ouro, de quem tem que o rapar para viver. É a história destes que vamos contar. Já lhes chamaram povo, cidadãos, hoje chamam-lhes sociedade civil. Não se sabe bem porquê, pois é evidente que não são militares. Não importa o que lhes chamam, o que importa é o que são, ou melhor, o que somos. Somos seres humanos, isso é o que importa. Temos direitos e deveres, não usamos todos os nossos direitos e não cumprimos todos os nossos deveres. Quando o fizermos, se um dia o conseguirmos fazer, então teremos construído uma sociedade bem mais justa do que esta onde agora nos movimentamos.
Esta é então a história do Benlhevai que trabalha, dos homens que lavram a terra, que se manifestam, que estão na rua quando é necessário, que estão no sóto a beber um copo e a conversar, que andam nos barulhos, que se sentam no muro a comentar o tempo, o andamento das colheitas, a vida de cada um deles e a dos outros, a contar histórias,:
“ Uma ocasião fui vender uma junta de bois à feira de Chacim….” e lá se conta uma história em que à vinda lhe tentaram roubar o dinheiro, e só não o fizeram porque um dos ladrões o conheceu.
“Alto, rapazes”, diz o ladrão para o resto da quadrilha, “ninguém faz mal a este homem! Já comi e bebi na casa dele sem me perguntar quem era eu.”
-------------------------------------------- CONTINUA ---------------------------------------------